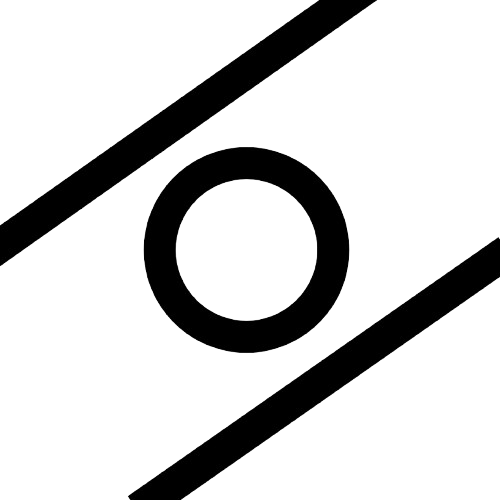O Regencialismo procura fortalecer a autonomia local, garantir processos transparentes de consulta popular e delinear caminhos mais claros para fusões e separações territoriais. Para quem vive em uma cidade pequena ou até em um grande Estado, a ideia é que as decisões importantes sejam mais próximas e com maior participação do cidadão comum — algo que nem sempre ocorre no federalismo brasileiro centralizado e burocrático.
Em essência, esse modelo tenta corrigir falhas de representatividade e excesso de controle que temos hoje, ao mesmo tempo em que assegura unidade nacional por meio de Normas Fundamentais que todos devem respeitar.
Quais são os problemas do modelo atual que o Regencialismo busca corrigir?
Atualmente:
Centralização Excessiva: Muita coisa depende de decisões do Governo Federal, o que pode ignorar as particularidades de cada região.
Burocracia e Morosidade: Para criar soluções locais, os Municípios precisam seguir procedimentos longos e depender de aprovação de órgãos centrais.
Dificuldade na Revisão de Fronteiras: Hoje, alterar limites de Municípios ou criar novos Estados é um processo complexo e pouco acessível à população, gerando confusão política e jurídica.
Falta de Mecanismos Claros de Consulta Popular: A população não é tão envolvida em consultas ou plebiscitos para mudanças territoriais ou leis importantes.
Como o Regencialismo soluciona:
Define processos mais simples e claros para reorganizações territoriais, sempre exigindo votação popular e transparência;
Garante autonomia para Municípios e Estados formularem normas, desde que não entrem em conflito com as normas superiores;
Preconiza consultas e referendos, reforçando a participação cidadã.
Como funciona a ideia de “anexar” um território no Regencialismo?
No Regencialismo, existem regras para que esse processo seja democrático, transparente e seguro:
Só pode acontecer dentro da mesma Região (ou seja, não se pode “pular” uma região inteira para anexar um Estado distante).
É necessário plebiscito: pelo menos 2/3 da população tanto do território que anexa quanto do que será anexado precisam concordar em votação aberta.
Irreversibilidade: A anexação, depois de concluída, só pode ser desfeita por uma nova votação popular com 70% de aprovação (maioria qualificada) para “desfazer” a união.
Exige continuidade geográfica: não se pode anexar um município que não seja vizinho ou que não tenha fronteira territorial direta.
Mantém as regras mínimas: cada Estado precisa de, no mínimo, 10 municípios; cada Região, no mínimo, 3 Estados. Assim, não dá para anexar tanto a ponto de ficar com menos do que esse mínimo.
E se a população quiser separar um Município ou criar um Estado novo?
A proposta do texto também permite reorganizações, mas sempre com forte participação popular e seguindo regras básicas:
Processo de Votação: A população do município ou do estado que queira se separar precisa aprovar a proposta em plebiscito, com quórum mínimo estabelecido (normalmente 2/3).
Estudos Técnicos: Há necessidade de demonstrar viabilidade (número de habitantes, recursos econômicos, estrutura para se manter como ente autônomo).
Consulta aos Níveis Superiores: O Conselho Estadual, Regional ou, em último caso, Federal, avalia se a separação não fere as normas fundamentais (por exemplo, se não vai deixar a região com menos de 3 estados ou o estado com menos de 10 municípios).
Qual a diferença na prática: como isso me afeta no dia a dia?
Mais autonomia local: Questões como transporte público, segurança, planejamento urbano e impostos municipais podem ser decididas de forma mais adaptada à realidade de cada cidade.
Menos burocracia: Quando a maior parte das decisões e normas parte do Município ou do Estado, muita papelada e espera por aprovação federal se reduz.
Participação ativa: Se houver proposta de unir ou separar seu Município de outro, você terá direito a votar sobre isso, decidindo o futuro do lugar onde vive.
Maior transparência: As regras de voto popular, quóruns mínimos e supervisão independente ajudam a evitar “jogadas políticas” que, no modelo atual, podem acontecer de forma menos transparente.
Quem resolve conflitos se os Governos (Municípios, Estados ou Regiões) não chegarem a um consenso?
A constituição proposta tem uma ordem de escalonamento de solução de conflitos:
Primeiro, tenta-se resolver nos Conselhos Municipais e Estaduais por meio de mediação;
Se não resolver, vai subindo de nível: Conselho Judiciário Estadual, depois Conselho Judiciário Regional;
Em última instância, a Suprema Corte Federal decide, garantindo a obediência às Normas Fundamentais.
Como ficaria a questão de impostos ou recursos compartilhados entre Estados e Municípios?
No texto, há um ponto que diz que nenhuma Região, Estado ou Município é obrigado a dividir recursos com outros, a não ser que haja um acordo voluntário. Isso significa:
Cada ente territorial controla seus próprios impostos e orçamento;
Podem se associar para obras ou projetos (por exemplo, construir uma estrada que passa por dois Estados), mas só se quiserem e formalizarem um contrato;
Ficam proibidas imposições compulsórias de um sobre o outro, exceto em situações extremas de calamidade ou ameaças nacionais (quando a Federação pode intervir).
Isso dá maior autonomia e reduz a dependência das transferências de cima para baixo.
O que acontece se um país vizinho quiser se juntar ao Regencialismo?
O texto prevê essa hipótese com as mesmas regras de anexação interna, mas considerando tratados internacionais:
Se a população desse país concordar em se integrar, ele viraria uma nova Região dentro da Federação;
Essa nova Região se subdividiria em Estados, adaptando-se à estrutura do Regencialismo;
Precisaria de referendo no país que entra e no Brasil, além de acordos internacionais, para respeitar a soberania das partes.